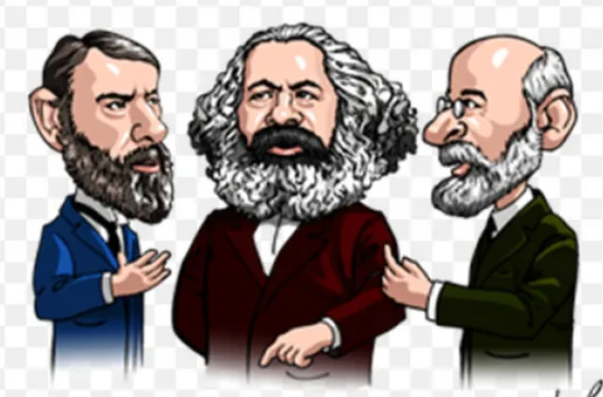SOCIOLOGIA
O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA CAPITALISTA
NAS PALAVRAS DE MARX
NAS PALAVRAS DE DURKHEIM
A CONDIÇÃO OPERÁRIA NA FÁBRICA TAYLORISTA
O TRABALHO NAS DIFERENTES SOCIEDADES
O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA CAPITALISTA
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia. São Paulo: Atual, 2007 (com adaptações).
A crescente divisão do trabalho é uma das características das sociedades modernas[1]. Os autores clássicos Émile Durkheim e Karl Marx, têm visões diferentes sobre essa questão, e o pensamento de ambos marca perspectivas de análise diversas ainda hoje. Assim, é importante conhecer essas duas visões para entender melhor a questão do trabalho na vida social moderna[2].
KARL MARX e a divisão social do trabalho
Para Karl Marx, a divisão social do trabalho é realizada no processo de desenvolvimento das sociedades. Ele quer dizer que, conforme buscamos atender a nossas necessidades, estabelecemos relações de trabalho e maneiras de dividir as atividades.
Por exemplo: nas sociedades tribais, a divisão era feita com base nos critérios de sexo e idade; quando a agricultura e o pastoreio começaram a ser praticados, as funções se dividiram entre quem plantava, quem cuidava dos animais e quem caçava ou pescava.
Com a formação das cidades, houve uma divisão entre o trabalho rural (agricultura) e o trabalho urbano (comércio e indústria). O desenvolvimento da produção e seus excedentes deram lugar a uma nova divisão entre quem administrava — o diretor ou gerente — e quem executava — o operário. Aí está a semente da divisão em classes, que existe em todas as sociedades modernas.
Para Marx, portanto, a divisão social do trabalho numa sociedade gera a divisão em classes. Com o surgimento das fábricas, apareceu também o proprietário das máquinas e, consequentemente, quem pagava o salário do operador das máquinas. A mecanização revolucionou o modo de produzir mercadorias, mas também colocou o trabalhador debaixo de suas ordens. Ele começou a servir à máquina, pois o trabalho passou a ser feito somente com ela[3]. E não era preciso ter muitos conhecimentos; bastava saber operá-la. Sendo um operador de máquinas eficiente, o trabalhador seria bom e produtivo[4].
Subordinado à máquina e ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo Marx, sua força de trabalho para vender, mas, se não a vender, o empresário também não terá quem opere as máquinas. É o que Marx chama de relação entre dois iguais. Ou seja, uma relação entre proprietários de mercadorias, mediante a compra e a venda da força de trabalho.
Vejamos como isso acontece.
Ao assinar o contrato, o trabalhador aceita trabalhar, por exemplo, oito horas diárias, ou quarenta horas semanais, por determinado salário[5]. O capitalista passa, a partir daí, a ter o direito de utilizar essa força de trabalho no interior da fábrica. O que ocorre, na realidade, é que o trabalhador, em quatro ou cinco horas de trabalho diárias, por exemplo, já produz o referente ao valor de seu salário total; as horas restantes são apropriadas pelo capitalista[6]. Isso significa que, diariamente, o empregado trabalha três a quatro horas para o dono da empresa, sem receber pelo que produz. O que se produz nessas horas a mais é o que Marx chama de mais-valia.
As horas trabalhadas e não pagas, acumuladas e reaplicadas no processo produtivo, vão fazer com que o capitalista enriqueça rapidamente. E assim, todos os dias, isso acontece nos mais variados pontos do mundo: uma parcela significativa do valor-trabalho produzido pelos trabalhadores é apropriada pelos capitalistas[7]. Esse processo chama-se acumulação de capital.
Para obter mais lucros, os capitalistas aumentam as horas de trabalho, gerando a mais-valia absoluta, ou, então, passam a utilizar equipamentos e diversas tecnologias para tornar o trabalho mais produtivo, decorrendo daí a mais-valia relativa, ou seja, mais produção e aumento de mais-valia com o mesmo número de trabalhadores (ou até menos), cujos salários continuam sendo os mesmos[8].
Os conflitos entre os capitalistas e os operários aparecem a partir do momento em que estes percebem que trabalham muito e estão cada dia mais miseráveis[9]. Assim, vários tipos de enfrentamento ocorreram ao longo do desenvolvimento do capitalismo, desde o movimento dos destruidores de máquinas no início do século XIX (ludismo) até as greves registradas durante todo o século XX.
ÉMILE DURKHEIM e a coesão social
Émile Durkheim analisa as relações de trabalho na sociedade moderna de forma diferente da de Marx. Em seu livro Da divisão do trabalho social, escrito no final do século XIX, procura demonstrar que a crescente especialização do trabalho promovida pela produção industrial moderna trouxe uma forma superior de solidariedade, e não de conflito.
Para Durkheim, há duas formas de solidariedade: a mecânica e a orgânica[10].
A solidariedade mecânica é mais comum nas sociedades menos complexas, nas quais cada um sabe fazer quase todas as coisas de que necessita para viver[11]. Nesse caso, o que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes comuns.
Já a solidariedade orgânica é fruto da diversidade entre os indivíduos, e não da identidade nas crenças e ações. O que os une é a interdependência das funções sociais, ou seja, a necessidade que uma pessoa tem da outra, em virtude da divisão do trabalho social existente na sociedade.
Com base nessa visão, na sociedade moderna, a coesão social seria dada pela divisão crescente do trabalho. E isso é fácil de observar em nosso cotidiano. Tomamos um ônibus que tem motorista e cobrador, compramos alimentos e roupas que são produzidas por outros trabalhadores. Também podemos ir ao posto de saúde, ao dentista, ao médico ou à farmácia quando temos algum problema de saúde, e lá encontramos outras tantas pessoas que trabalham para resolver essas questões. Enfim, poderíamos citar uma quantidade enorme de situações que nos fazem dependentes de outras pessoas.
Durkheim afirma que a interdependência provocada pela crescente divisão do trabalho cria solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá coesão.
Segundo esse autor, toda a ebulição no final do século XIX, resultante da relação entre o capital e o trabalho, não passava de uma questão moral. O que fez surgir tantos conflitos foi a falta de instituições e normas integradoras (anomia) que permitissem que a solidariedade dos diversos setores da sociedade, nascida da divisão do trabalho, se expressasse e, assim, pusesse fim aos conflitos.
Para Durkheim, se a divisão do trabalho não produz a solidariedade, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não são regulamentadas pelas instituições existentes.
As duas diferentes formas de analisar as relações na sociedade moderna e capitalista, apresentadas por Marx e Durkheim, acabaram influenciando outras ideias no século XX, mesmo quando a situação do trabalho parecia ter mudado.
FORDISMO-TAYLORISMO: uma nova forma de organização do trabalho
No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a. uma divisão do trabalho muito bem detalhada e encadeada. Essa nova forma de organização tornou-se conhecida como fordismo, numa referência a Henry Ford (1863-1947)[12]. Foi ele quem, a partir de 1914, implantou em sua fábrica de automóveis um modelo que seria seguido por muitas outras indústrias, a ponto de representar uma nova etapa da produção industrial.
As mudanças introduzidas por Ford visavam à produção em série de um produto (o Ford modelo T) para o consumo em massa. Ele estabeleceu a jornada de oito horas, por 5 dólares ao dia, o que, na época, significava renda e tempo de lazer suficientes para o trabalhador suprir todas as suas necessidades básicas e até adquirir um dos automóveis produzidos na empresa. Iniciava-se, assim, o que veio a se chamar a era do consumismo: produção e consumo em larga escala. Esse processo disseminou-se e atingiu quase todos os setores produtivos das sociedades industriais.
Mas isso por si só não explica o fordismo. E apenas um de seus aspectos, o mais aparente. Já no final do século XIX, Frederick Taylor (1865-1915), em seu livro Princípios de administração científica, propunha a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo[13]. Com as mudanças introduzidas por Henry Ford em sua fábrica, as expressões fordismo e taylorismo passaram a ser usadas para identificar um mesmo processo: aumento de produtividade com o uso mais adequado possível de horas trabalhadas, por meio do controle das atividades dos trabalhadores, divisão e parcelamento das tarefas, mecanização de parte das atividades com a introdução da linha de montagem e um sistema de recompensas e punições conforme o comportamento dos operários no interior da fábrica.
Em razão dessas medidas, foi desenvolvido um sistema de planejamento para aprimorar cotidianamente as formas de controle e execução das tarefas, o que resultou na criação de um setor de especialistas na administração das empresas. A hierarquia, bem como a impessoalidade das normas, foi introduzida no processo produtivo, sempre comandado por administradores treinados para isso. A capacidade e a especialização dos operários tinham valor secundário, i essencial eram as tarefas de planejamento e supervisão[14].
Por incrível que pareça, essas diretrizes não foram utilizadas apenas no universo capitalista; o modelo fordista-taylorista foi adotado também, com algumas adaptações, na então União Soviética[15]. O próprio Lenin aconselhava sua utilização como uma alternativa para elevar a produção industrial soviética.
Com Ford e Taylor, a divisão do trabalho passou pelo planejamento vindo de cima, não levando em conta os operários[16]. Para corrigir isso, Elton Mayo (1880-1949), professor da Universidade de Harvard (Estados Unidos), buscou medidas que evitassem o conflito e promovessem o equilíbrio e a cooperação no interior das empresas. Suas ideias de conciliação, desenvolvidas na Escola de Relações Humanas a partir dos anos 1930, procuravam revalorizar os grupos de referência dos trabalhadores, principalmente o familiar, visando assim um desenraizamento dos operários[17].
A visão de Taylor, a de Ford e, depois, a de Elton Mayo revelam a influência das formulações de Durkheim sobre a consciência coletiva. Durkheim afirmou que há uma consciência coletiva que define as ações individuais, submetendo todos à norma, à regra, à disciplina, à moral e à ordem estabelecidas. As empresas devem dar continuidade a isso, definindo claramente o lugar e as atividades de cada um, para que não haja dúvida sobre o que cada membro deve fazer[18]. Se existir conflito, diz ele, deve haver uma coesão social, baseada numa ideia de consenso, orientada pela existência de uma consciência coletiva que paira acima de todos na sociedade[19].
Em seu livro Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX, o sociólogo estadunidense Harry Bravermann critica essa visão. Ele afirma que o taylorismo foi somente o coroamento e a síntese de várias ideias, que germinaram durante todo o século XIX na Inglaterra e nos Estados Unidos, cujo objetivo era transferir para as mãos das gerências o controle de todo o processo produtivo. O taylorismo tirava do trabalhador o último resquício de saber sobre a produção: a capacidade de operar uma máquina. Agora ele tinha que operá-la do modo como os administradores definiam[20]. Estava concluída a expropriação em todos os níveis da autonomia dos trabalhadores, que ficavam totalmente dependentes dos gerentes e administradores.
A crítica marxista a Elton Mayo destaca que as formas de regulamentação da força de trabalho por ele propostas seriam indiretas, pela manipulação do operário por intermédio d e especialistas em resolver conflitos. Assim, psicólogos e sociólogos, assistentes sociais e administradores procuraram de várias formas cooptar os trabalhadores para que eles não criassem situações de conflito no interior das empresas. A empresa lhes daria segurança e apoio e, portanto, deveriam trabalhar coesos, como se fizessem parte de uma comunidade de interesses[21]. Talvez a expressão “lá na minha empresa”, que ouvimos de muitos trabalhadores, seja um exemplo de quanto essa perspectiva atingiu os corações e mentes.
Foi com esses procedimentos que o fordismo-taylorismo se desenvolveu e tornou-se a ideologia dominante em todo tipo de empresa, até mesmo nas comerciais e de serviços. E ficou tão forte na sociedade capitalista que suas concepções acabaram chegando às escolas, às famílias, aos clubes, às igrejas e às instituições estatais; enfim, penetraram em todas as organizações sociais que buscam, de uma forma ou de outra, o controle e a eficiência das pessoas[22].
Essa forma de organizar o trabalho foi marcante até a década de 1970 e ainda prevalece em muitos locais, com múltiplas variações[23]. Entretanto, novas formas de produção e de trabalho foram surgindo desde então[24].
INTERPRETAÇÃO, REFLEXÃO, ASSIMILAÇÃO DE CONTEÚDO
NAS PALAVRAS DE MARX
(MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983. v. 1. p. 211-2)
Este texto permite que se tenha uma ideia do que era trabalhar na Inglaterra no início do processo de industrialização. Além disso, pode-se pensar também na exploração do trabalho.
A jornada de trabalho no capitalismo no século XIX
“Que é uma jornada de trabalho?” De quanto é o tempo durante o qual o capital pode consumir a força de trabalho, cujo valor diário ele paga?[25] Por quanto tempo pode ser prolongada a jornada de trabalho além do tempo de trabalho necessário à reprodução dessa mesma força de trabalho? A essas perguntas, viu-se que o capital responde: a jornada de trabalho compreende diariamente as 24 horas completas, depois de descontar as poucas horas de descanso, sem as quais a força de trabalho fica totalmente impossibilitada de realizar novamente sua tarefa. Entende-se por si, desde logo, que o trabalhador, durante toda a sua existência, nada mais é que força de trabalho e que, por isso, todo o seu tempo disponível é por natureza e por direito tempo de trabalho, portanto, pertencente à autovalorização do capital[26].
Tempo para a educação humana, para o desenvolvimento intelectual, para o preenchimento de funções sociais, para o convívio social, para o jogo livre das forças vitais físicas e espirituais, mesmo o tempo livre de domingo — e mesmo no país do sábado santificado — pura futilidade![27] […] Em vez da conservação normal da força de trabalho determinar aqui o limite da jornada de trabalho é, ao contrário, o maior dispêndio possível diário da força de trabalho que determina, por mais penoso e doentiamente violento, o limite do tempo de descanso do trabalhador. O capital não se importa com a duração de vida da força de trabalho. O que interessa a ele, pura e simplesmente, é um maximum de força de trabalho que em uma jornada de trabalho poderá ser feito fluir[28].
[…]
A produção capitalista, que é essencialmente produção de mais-valia, absorção de mais-trabalho, produz, portanto, com o prolongamento da jornada de trabalho não apenas a atrofia da força de trabalho, a qual é roubada de suas condições normais, morais e físicas, de desenvolvimento e atividade. Ela produz a exaustão prematura e o aniquilamento da própria força de trabalho. Ela prolonga o tempo de produção do trabalhador num prazo determinado mediante o encurtamento de seu tempo de vida[29].
NAS PALAVRAS DE DURKHEIM
(DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 108)
A divisão do trabalho social cria a solidariedade
Bem diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é possível na medida em que a personalidade individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade[30].
É necessário, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da consciência individual, para que nela se estabeleçam essas funções especiais que ela não pode regulamentar; e quanto mais essa região é extensa, mais forte é a coesão que resulta dessa solidariedade.
De fato, de um lado, cada um depende tanto mais estreitamente da sociedade quanto mais dividido for o trabalho nela e, de outro, a atividade de cada um é tanto mais pessoal quanto mais for especializada.
Sem dúvida, por mais circunscrita que seja, ela nunca é completamente original; mesmo no exercício de nossa profissão, conformamo-nos a usos, a práticas que são comuns a nós e a toda a nossa corporação. Mas, mesmo nesse caso, o jugo que sofremos é muito menos pesado do que quando a sociedade inteira pesa sobre nós, e ele proporciona muito mais espaço para o livre jogo de nossa iniciativa. Aqui, pois, a individualidade do todo aumenta ao mesmo tempo que a das partes; a sociedade torna-se mais capaz de se mover em conjunto, ao mesmo tempo em que cada um de seus elementos tem mais movimentos próprios. Essa solidariedade se assemelha à que observamos entre os animais superiores[31].
De fato, cada órgão aí tem sua fisionomia especial, sua autonomia, e, contudo, a unidade do organismo é tanto maior quanto mais acentuada essa individuação das partes. Devido a essa analogia, propomos chamar de orgânica a solidariedade devida à divisão do trabalho.
A CONDIÇÃO OPERÁRIA NA FÁBRICA TAYLORISTA
(WEIL, Simone. Carta a Alb. Ine Thévenon (1934-5). In: Bosi, Ecléa (org.). A condição operária e outros estudos sobre a opressão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 65)
A minha vida de fábrica, foi uma experiência única. […] para mim pessoalmente, veja o que significou trabalho na fábrica. Mostrou que todos os motivos exteriores (que antes eu julgava interiores) sobre os quais, para mim, se apoiava o sentimento de dignidade, o respeito por mim mesma, em duas ou três semanas ficaram radicalmente arrasados pelo golpe de uma pressão brutal e cotidiana. E não creio que tenham nascido em mim sentimentos de revolta[32]. Não, muito ao contrário. Veio o que era coisa do mundo que eu esperava de mim: a docilidade. Uma docilidade de besta de carga resignada. Parecia que eu tinha nascido para esperar, para receber, para executar ordens — que nunca tinha feito senão isso — que nunca mais faria outra coisa. Não tenho orgulho de confessar isso. É a espécie de sofrimento que nenhum operário fala; dói demais, só de pensar[33].
[…]
Dois fatores condicionam esta escravidão: a rapidez e as ordens[34]. A rapidez: para alcançá-la, é preciso repetir movimento atrás de movimento, numa cadência que, por ser mais rápida que o pensamento, impede o livre curso da reflexão e até do devaneio. Chegando -se à frente da máquina, é preciso matar a alma oito horas por dia, pensamentos, sentimentos, tudo.
[…]
As ordens: desde o momento em que se bate o cartão na entrada até aquele em que se bate o cartão na saída, elas podem ser dadas, a qualquer momento, de qualquer teor. E é preciso sempre calar e obedecer. A ordem pode ser difícil ou perigosa de se executar, até inexequível; ou então, dois chefes dando ordens contraditórias; não faz mal: calar-se e dobrar-se[35].
[…]
Engolir nossos próprios acessos de enervamento e de mau humor; nenhuma tradução deles em palavras, nem em gestos, pois os gestos estão determinados, minuto a minuto, pelo trabalho. Esta situação faz com que o pensamento se dobre sobre si, se retraia, como a carne se retrai debaixo de um bistur[36]i. Não se pode ser “consciente”.
Com base no texto de Simone Weil, você pode analisar com muitos detalhes o cotidiano de alguém que trabalhou numa fábrica em que a estrutura da produção era diferente daquela do século XIX. Esse é um relato vivo do sofrimento de uma trabalhadora submetida à “organização científica” do trabalho. E, muitas vezes, o sofrimento causado é muitas vezes mais mental do que físico.
O TRABALHO NAS DIFERENTES SOCIEDADES
TOMAZI, Nelson Dacio. O Trabalho nas diferentes sociedades. Sociologia. São Paulo: Atual 2007 pp 36-43
Em nossa sociedade, a produção0 de cada objeto envolve uma complexa rede de trabalho e de trabalhadores[37]. Vamos tomar por exemplo um produto que faz parte do dia a dia de grande número de pessoas: o pãozinho francês.
Os ingredientes básicos para fazer um pãozinho são o trigo, a água, o sal e o fermento. Para que haja trigo é necessário que alguém o plante e o colha; é preciso que haja muitos moinhos para moê-lo e comercialização para que chegue até a padaria[38]. Este mesmo processo serve para o sal, que deve ser retirado do mar ou salinas, processado e embalado. O fermento é produzido em outras empresas por outros trabalhadores, com outras matérias-primas. A água precisa ser captada, tratada e distribuída, o que exige uma complexa infraestrutura com grande número de trabalhadores[39].
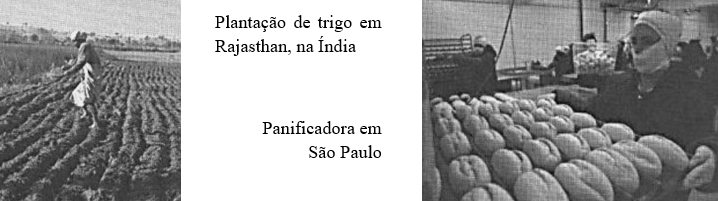
(Do trigo ao pão, do tijolo ao prédio, cada produto em nossa sociedade resulta do trabalho entrelaçado de uma infinidade de pessoas, cada qual especializada em determinada tarefa)
São necessários equipamentos, como máquina de preparar massas e forno para assar o pão, fabricadas em indústrias que, por sua vez, empregam outras matérias-primas e trabalhadores[40].
É necessário algum tipo de energia proporcionada pelo fogo (isso exige madeira, carvão ou gás), ou energia elétrica (que é gerada em hidroelétricas ou termoelétricas). As usinas de energia, por sua vez, precisam de equipamentos, linhas de transmissão e trabalhadores para fazer tudo isso acontecer.
Na ponte de todo esse trabalho, estão as padarias, mercadinhos e supermercados, onde o pãozinho finalmente chega ao consumidor.
Assim, para se comer um simples pãozinho há tanta gente envolvida, direta e indiretamente, que você pode imaginar quanto trabalho é necessário para a fabricação do ônibus, da bicicleta ou do automóvel, para a construção de uma casa de uma escola etc.
Essa complexidade das tarefas relacionadas à produção é uma característica da nossa sociedade.
Outros tipos de sociedades, do presente e do passado, apresentam características bem diversas[41].
[1] Tomazzi, Nelson. Cap. 5 – O Trabalho Na Sociedade Moderna Capitalista,
[2] Trabalho e sociedade – UNIFAP,
https://www2.unifap.br/unienem/files/2023/10/UNIDADE-III-Trabalho-e-sociedade-Profo.LeandroCruz.pdf.
[3] Karl Marx e a divisão social do trabalho – 1Library PT,
[4] PROFESSOR MARCELO RIBEIRO: Karl Marx e a divisão do trabalho – Blogger,
https://professormarceloribeiro.blogspot.com/2013/10/karl-marx-e-divisao-do-trabalho.html.
[5] “Vejamos como isso acontece. Ao assinar o contrato, o … – Brainly,
https://brainly.com.br/tarefa/52548967.
[6] Questão 8 “O que ocorre, na realidade, é que o trabalhador, em – Brainly,
https://brainly.com.br/tarefa/27625815.
[7] Tomazzi, Nelson. Cap. 5 – O Trabalho Na Sociedade Moderna Capitalista,
[8] O TRABALHO NA SOCIEDADE MODERNA CAPITALISTA,
[9] Karl Marx e a divisão social do trabalho – 1Library PT,
[10] Para Durkheim há duas formas de solidariedade: quais são elas? – Brainly,
https://brainly.com.br/tarefa/16743408.
[11] Para durkheim há duas formas de solidariedade: quais são elas? – Brainly,
https://brainly.com.br/tarefa/16743408.
[12] Tomazzi, Nelson. Cap. 5 – O Trabalho Na Sociedade Moderna Capitalista, https://idoc.pub/documents/tomazzi-nelson-cap-5-o-trabalho-na-sociedade-moderna-capitalista-vlr0eo06rvlz.
[13] APOSTILA FUNDAMENTOS DO TRABALHO – História Contemporânea – Passei Direto,
https://www.passeidireto.com/arquivo/135646344/apostila-fundamentos-do-trabalho.
[14] APOSTILA FUNDAMENTOS DO TRABALHO – História Contemporânea – Passei Direto,
https://www.passeidireto.com/arquivo/135646344/apostila-fundamentos-do-trabalho.
[15] Tomazzi, Nelson. Cap. 5 – O Trabalho Na Sociedade Moderna Capitalista, https://idoc.pub/documents/tomazzi-nelson-cap-5-o-trabalho-na-sociedade-moderna-capitalista-vlr0eo06rvlz.
[16] Tomazzi, Nelson. Cap. 5 – O Trabalho Na Sociedade Moderna Capitalista, https://idoc.pub/documents/tomazzi-nelson-cap-5-o-trabalho-na-sociedade-moderna-capitalista-vlr0eo06rvlz.
[17] APOSTILA FUNDAMENTOS DO TRABALHO – História Contemporânea – Passei Direto,
https://www.passeidireto.com/arquivo/135646344/apostila-fundamentos-do-trabalho.
[18] A visão de Taylor, a de Ford e, depois a de Elton Mayo – UNESPAR 2016,
[19] A visão de Taylor, a de Ford e, depois a de Elton Mayo – №33360375 …,
https://e-conhecimento.br.com/sociologia/a-vis-o-de-taylor-a-de-ford-e-depoi-33360375.
[20] Tomazzi, Nelson. Cap. 5 – O Trabalho Na Sociedade Moderna Capitalista, https://idoc.pub/documents/tomazzi-nelson-cap-5-o-trabalho-na-sociedade-moderna-capitalista-vlr0eo06rvlz.
[21] Tomazzi, Nelson. Cap. 5 – O Trabalho Na Sociedade Moderna Capitalista, https://idoc.pub/documents/tomazzi-nelson-cap-5-o-trabalho-na-sociedade-moderna-capitalista-vlr0eo06rvlz.
[22] Trabalho e sociedade – UNIFAP, https://www2.unifap.br/unienem/files/2023/10/UNIDADE-III-Trabalho-e-sociedade-Profo.LeandroCruz.pdf.
[23] O Trabalho NA Modernidade 13 – O TRABALHO O trabalho nas … – Studocu, https://www.studocu.com/pt-br/document/ensino-medio-brasil/sociologia/o-trabalho-na-modernidade-13/10577566.
[24] Trabalho e Sociedade na concepção sociológica,
https://sociologiaemdestaque2016.blogspot.com/2016/03/trabalho-e-sociedade-na-concepcao.html.
[25] Elista: A Jornada de Trabalho No Capitalismo no Século XIX – Blogger,
https://blogdoelista.blogspot.com/2018/02/a-jornada-de-trabalho-no-capitalismo-no.html.
[26] Comente sobre “A jornada de trabalho no capitalismo no século XIX …, https://brainly.com.br/tarefa/32975340.
[27] Comente sobre “A jornada de trabalho no capitalismo no século XIX …, https://brainly.com.br/tarefa/32975340.
[28] Sociologia de Plantão: Texto complementar – O Capital,
https://sociologiadeplantao.blogspot.com/2009/05/sociologia-texto-complementar-unidade-1.html.
[29] Sociologia de Plantão: Texto complementar – O Capital,
https://sociologiadeplantao.blogspot.com/2009/05/sociologia-texto-complementar-unidade-1.html.
[30] O suicídio: contribuições de Émile Durkheim e Karl Marx para a …,
[31] Emile Durkheim – Sociologia, https://www.esociologia.com.br/textos/emile-durkheim.
[32] APOSTILA FUNDAMENTOS DO TRABALHO – História Contemporânea – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/135646344/apostila-fundamentos-do-trabalho.
[33] APOSTILA FUNDAMENTOS DO TRABALHO – História Contemporânea – Passei Direto, https://www.passeidireto.com/arquivo/135646344/apostila-fundamentos-do-trabalho.
[34] Dois fatores condicionam esta escravidão: a rapidez e as … – Brainly, https://brainly.com.br/tarefa/30209857.
[35] Dois fatores condicionam esta escravidão: a rapidez e as … – Brainly, https://brainly.com.br/tarefa/30209857.
[36] APOSTILA FUNDAMENTOS DO TRABALHO – História Contemporânea – Passei Direto,
https://www.passeidireto.com/arquivo/135646344/apostila-fundamentos-do-trabalho.
[37] Sociologia & Filosofia: Sociedade e trabalho, https://sociolosofia.blogspot.com/2010/04/sociedade-e-trabalho.html.
[38] Exercícios de História – UESC 2011 – Os ingredientes … – Stoodi,
[39] sociologia 1 o trabalho nas diferentes sociedades – Literatura,
https://www.passeidireto.com/arquivo/44391000/sociologia-1-o-trabalho-nas-diferentes-sociedades.
[40] sociologia 1 o trabalho nas diferentes sociedades – Literatura,
https://www.passeidireto.com/arquivo/44391000/sociologia-1-o-trabalho-nas-diferentes-sociedades.
[41] sociologia 1 o trabalho nas diferentes sociedades – Literatura,
https://www.passeidireto.com/arquivo/44391000/sociologia-1-o-trabalho-nas-diferentes-sociedades.
Pesquisa e compilação – Prof. Artur Cristiano Arantes
Home – professorarturarantes.com
Não tem valor comercial